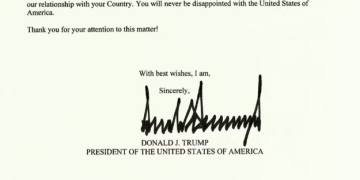A cerimônia realizada na Embaixada da Alemanha, em Brasília, em memória das vítimas do Holocausto, não foi apenas um ato de lembrança histórica. Foi, sobretudo, um gesto político, moral e civilizatório. Em um mundo cada vez mais marcado pela banalização do ódio, lembrar o Holocausto deixou de ser um exercício do passado e passou a ser uma exigência do presente.
O depoimento de George Legmann, sobrevivente nascido em um campo de concentração, carrega um peso que nenhum livro ou documento consegue reproduzir. Quando um sobrevivente fala, não se trata apenas de memória individual, mas de um testemunho coletivo — uma prova viva de que o horror não é abstração, é fato. Ao lado dele, a fala de Shirley Sobotka, filha de um sobrevivente, reforça uma verdade incontornável: o trauma não termina com quem o viveu; ele atravessa gerações.
O tempo, no entanto, impõe um desafio silencioso. Já se passaram mais de oitenta anos desde a libertação de Auschwitz. As novas gerações não presenciaram as perseguições, os campos, o extermínio sistemático. E os sobreviventes, guardiões diretos dessa memória, estão desaparecendo. Isso torna a responsabilidade coletiva ainda maior. Quando as testemunhas se vão, a história corre o risco de ser distorcida, relativizada ou, pior, negada.
É nesse ponto que a memória deixa de ser apenas lembrança e se transforma em compromisso. Lembrar o Holocausto não é apenas honrar os mortos, mas vigiar os vivos. É reconhecer os sinais que antecedem as grandes tragédias: a desumanização do outro, o discurso de ódio normalizado, a perseguição travestida de política, o silêncio cúmplice diante da violência simbólica.
A referência feita à tragédia ocorrida em Bondi Beach, na Austrália, em dezembro de 2025, evidencia como o antissemitismo não pertence ao passado. Quinze vidas perdidas em um ato de ódio mostram que a promessa do “nunca mais” não se cumpre sozinha. Ela exige ação constante, educação, vigilância institucional e coragem política para enfrentar extremismos, mesmo quando eles se apresentam de forma difusa ou socialmente tolerada.
A presença conjunta de embaixadas europeias, de Israel e da Confederação Israelita do Brasil na cerimônia reforça um ponto essencial: a memória do Holocausto não é uma causa exclusiva da comunidade judaica. Ela é uma responsabilidade universal. O Holocausto foi um crime contra judeus, mas também contra a humanidade — e seus ensinamentos dizem respeito a todas as sociedades.
Em um tempo em que conflitos, guerras e discursos radicais ganham espaço, lembrar Auschwitz é lembrar até onde a humanidade pode chegar quando abdica de valores básicos. Não se trata de comparar tragédias, mas de compreender mecanismos. O ódio organizado começa sempre pequeno, tolerado, relativizado — até se tornar irreversível.
Cerimônias como a realizada em Brasília cumprem um papel que vai além do simbólico. Elas reafirmam que a memória não pode ser delegada ao passado nem confinada a datas comemorativas. Ela precisa ser ativa, educativa e presente no debate público.
Enquanto ainda há vozes que podem contar, e enquanto houver sociedades dispostas a ouvir, há esperança. Mas a memória só cumpre sua função quando incomoda, alerta e mobiliza. Lembrar o Holocausto, hoje, é um ato de resistência contra a indiferença — e um compromisso permanente com a dignidade humana.