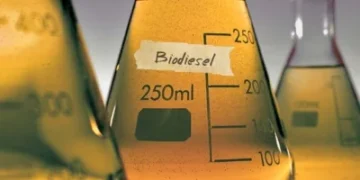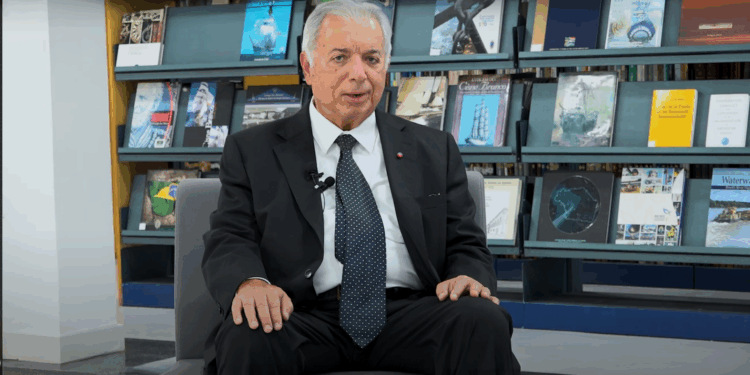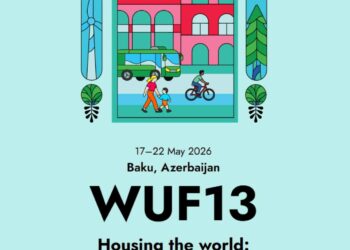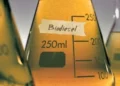Por Embaixador Paulo Pinto
A Abertura para o Exterior
Durante o período em que servi na Embaixada do Brasil em Pequim – entre 1982 e 1985 – o cenário internacional era bipolar, com centros de poder em Washington e Moscou. Segundo classificação adotada no Ocidente, o planeta era dividido em “Três Mundos”. Os países industrializados de economia de mercado eram incluídos no Primeiro Mundo. Os de sistema econômico centralmente planificado participavam do Segundo. Os em desenvolvimento eram despachados para o Terceiro.
Durante a fase maoista, no entanto, os chineses tinham uma visão própria do globo terrestre. Este estaria dividido em duas partes antagônicas – a metade que apoiava o bloco soviético e a outra que se opunha, incluindo a China. A política externa da RPC seguia esta rigidez, baseada no pressuposto de que qualquer coisa, que pudesse prejudicar os interesses de Moscou, seria favorável a Pequim.
Sob a nova liderança de Deng Xiaoping, tornou-se mais pragmática também a postura chinesa no plano externo. Este “último grande timoneiro do século XX” defendera, a propósito, teoria, com “características chinesas”, quanto à existência de “Três Mundos” [1].
Em discurso pronunciado na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10.04.1974, Deng, então Vice Primeiro-Ministro da RPC, elaborara sobre o conceito, afirmando que: “No momento, a situação internacional é mais favorável aos países em desenvolvimento e aos povos do mundo. Mais e mais, a velha ordem sustentada pelo colonialismo, imperialismo e hegemonismo está sendo destruída e abalada em suas fundações. Relações internacionais estão mudando drasticamente. O mundo todo está em estado de turbulência e inquietação. A situação é a de “grande desordem sob o céu” como a descrevemos, nós os chineses. A “desordem” é a manifestação do agravamento das contradições básicas do mundo contemporâneo. É a aceleração da desintegração e declínio da decadência de forças reacionárias e o estímulo do despertar e crescimento de novas forças populares”.
Segundo Deng, naquela situação de “grande desordem sob o céu”, todas as forças políticas do mundo sofreram divisões drásticas e realinhamento através de prolongados testes de força e conflitos. Numerosos países asiáticos, africanos e latino-americanos conseguiram a independência, sucessivamente, e estavam desempenhando papel cada vez mais importante em assuntos internacionais. Como resultado da emergência do “sócio imperialismo” (que delícia de termo para descrever a hegemonia soviética sobre seus “satélites”), o campo socialista, que existia após a Segunda Guerra Mundial, não mais perduraria, no momento de seu discurso.
O “último grande timoneiro” afirmava, ainda, que devido à lei do “desenvolvimento desigual do capitalismo”, o bloco imperialista ocidental, também, estava se desintegrando. “A julgar pelas alterações nas relações internacionais, o mundo atual consiste em três partes, ou três mundos, que são tanto interconectados, quanto contraditórios. Os Estados Unidos e a União Soviética formam o Primeiro Mundo. Os países em desenvolvimento na Ásia, África e América Latina integram o Terceiro Mundo. Os desenvolvidos – sejam os do mundo capitalista ou do socialista – formam o Segundo Mundo” esclarecia.
De acordo com seu ponto de vista “as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, procuram, em vão, conquistar a hegemonia mundial. Cada uma busca, ao seu estilo, trazer os países do Terceiro Mundo a sua esfera de influência, assim como aqueles que, mesmo desenvolvidos, não são capazes de se opor aos desígnios de Washington ou Moscou”.
Verificava-se, nessa perspectiva, que, enquanto a liderança chinesa alterava seu discurso para justificar as mudanças no plano interno, nova retórica era aplicada, também, no patamar externo. Pequim, explicaria, a partir de termos inovadores, sua inserção no cenário internacional.
Não caberia mais um mundo dividido em duas partes – “a URSS e os EUA de um lado, e o resto do mundo, incluindo a RPC, no outro”. Era mais conveniente pensar naquela outra divisão, que colocaria a China, com suas práticas modernizantes internas, liderando um Terceiro Mundo, contra a hegemonia de Washington e Moscou.
Cabe lembrar, a propósito, as razões da ruptura entre Pequim e Moscou, na década de 1960. O cisma já existiria, desde a década de 1930. Segundo consta, o Partido Comunista da União Soviética desejava controlar o Partido Comunista Chinês, da mesma forma que o fazia com partidos comunistas de outros países.
Durante o período da Guerra Fria, os dirigentes soviéticos persistiram nesses esforços. Entre as preocupações russas estavam a manifestada intenção do governo de Mao Zedong de invadir Taiwan o que levaria a uma confrontação com os Estados Unidos e o desenvolvimento da bomba atômica chinesa. Moscou havia permanecido neutra, durante a tensão havida na fronteira sino-indiana, em 1959.
As relações bilaterais foram realmente prejudicadas, na década de 1960, quando Nikita Kruschev iniciou o processo de desestalinização da URSS, bem como a aproximação do Ocidente. Isto porque, segundo a visão de Pequim, avanços tecnológicos, como o lançamento do primeiro “Sputnik”, em 1957, indicavam o fortalecimento do mundo comunista, ou segundo o linguajar folclórico da época – “o vento que vem do Leste prevalece sobre o que vem do Oeste”. Seria, portanto, importante para Mao, que houvesse maior militância contra a parte ocidental do planeta, não o contrário, como estaria indicando Moscou.
Pequim demonstrara paciência, na medida em que dependia, ainda, do auxílio da URSS para o esforço de socialização do país. Entre 1958-60, no entanto, foram desencadeadas as desastrosas políticas do “Grande Salto Adiante”. Os conselheiros russos foram retirados, como demonstração de descontentamento de Moscou.
Em suma, o cisma sino-soviético ocorreu, “em nível ideológico, militar e econômico” pelas mesmas razões: para a liderança chinesa era prioritária a conquista da autossuficiência e independência, em comparação com os benefícios a serem recebidos dos russos, na condição de parceiros menores. Lembra-se que Mao fizera a revolução, para livrar a China de mais de um século de domínio estrangeiro. Caso aceitasse, então, a submissão à URSS estaria negando sua própria conquista.
Na década de 1960, agravaram-se as divergências. A China decidiu reabrir disputas fronteiriças, acertadas com a Rússia Imperial. Após malsucedidas negociações, em 1964, a União Soviética iniciou processo de fortalecimento de seus exércitos, nas proximidades da RPC.
As relações entre os dois países permaneceram tensas e, em 1969, chegou-se a pensar que a guerra entre ambos seria inevitável. Pequim e Moscou passavam de estado de hostilidade à ameaça de confrontação. O “fator soviético”, portanto, ocupava lugar dominante no pensamento maoista, quanto à inserção internacional chinesa.
A respeito desta preocupação, verifica-se, em retrospectiva, que foi melhor para os chineses terem se afastado dos russos, naquele momento. Caso contrário, possivelmente o país teria seguido o modelo de ditadura soviética, transformando-se em potência fortemente industrializada e militarizada. Tornar-se-ia, então, mais um membro do Pacto de Varsóvia, a seguir o caminho da falência da URSS, ao término da Guerra Fria.
Possivelmente, não teriam ocorrido, as reformas de uma economia socialista de mercado, hoje tão valorizadas. Tampouco, haveriam acontecido as experiências chinesas de “democracia”, em baixos níveis de governo, que começam a servir de inspiração como modelo de governança, com características suas, para outras nações. Tais desenvolvimentos chegam a competir, no momento, com sistemas ocidentais de organização político-econômica. Uma das vantagens atuais da RPC, nesta competição, é que “os chineses não têm interesse em converter os não chineses em chineses”.
Assim, no momento do discurso de Deng sobre “desordem sob o céu”, a China era vista, cada vez mais, como uma nave com rumo próprio e seguro (vide texto publicado em 19 de setembro, sobre “China na década de 1980: em busca do “Caminho Real”). Sem precisar, contudo, de um “Grande Timoneiro”. O Partido Comunista, na prática, desempenhava, desde então, este papel de liderança. Seus métodos, conforme se procurou expor no artigo anterior, têm raízes na longa história de luta para administrar aquele imenso país. Servem, também, para o melhor entendimento do processo de modernização e abertura para o exterior, iniciado na década de 1980, com influência no cenário atual da RPC.
O “MULTILATERALISMO COM CARATERÍSTICAS CHINESAS”.
“Fast foward” para a sessão da AGNU em curso, o Primeiro-Ministro da China, Li Qiang, criticou sexta-feira, dia 26 de setembro, em discurso na Assembleia-Geral da ONU, a “lei do mais forte” e afirmou que o mundo “entrou em um novo período de turbulência”.
“Se a era da ‘lei do mais forte’ retornar e os fracos forem deixados como presas dos fortes, a sociedade humana enfrentará ainda mais derramamento de sangue e brutalidade”, disse Li. “Somente quando todos os países, grandes ou pequenos, forem tratados como iguais e o verdadeiro multilateralismo for praticado, os direitos e interesses de todas as partes poderão ser mais bem protegidos.”
Li afirmou também que o unilateralismo e “a mentalidade de Guerra Fria” também voltaram, num recado às tarifas impostas pelo presidente Trump contra a China e outros países. “O mundo entrou em novo período de turbulência e transformação. O unilateralismo e a mentalidade de Guerra Fria estão ressurgindo. As regras e a ordem internacional construídas ao longo dos últimos 80 anos enfrentam desafios sérios, e o sistema internacional outrora eficaz está sendo constantemente perturbado”, disse.
“Uma das principais causas do atual desaquecimento econômico global é a ascensão de medidas unilaterais e protecionistas, como aumentos de tarifas e a construção de barreiras.”
Li declarou ainda que, “após termos passado por duas Guerras Mundiais, jamais devemos esquecer as dolorosas lições aprendidas com o derramamento de sangue e a perda de vidas”. E abordou questões ambientais, afirmando que a mudança climática é um dos maiores desafios atuais.
“Devemos defender o princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, promover a implementação efetiva do Acordo de Paris e fortalecer a colaboração internacional na economia verde”, afirmou. Em seu pronunciamento na Assembleia Geral, Li pediu também paz e estabilidade para atingir o desenvolvimento global.
A defesa do multilateralismo também tem sido uma constante nas falas de representantes do Governo chinês. Neste momento, Washington e Pequim vivem uma trégua e tentam negociar uma saída comum para a guerra comercial, que tem causado preocupações com a estabilidade econômica dos dois países.
“Atualmente, o unilateralismo e o protecionismo estão em ascensão, a cooperação internacional para o desenvolvimento enfrenta sérias dificuldades, os motores do crescimento econômico global estão enfraquecendo e a disputa por recursos disponíveis está se intensificando”, afirmou durante seu discurso.
Tais propostas refletem orientação atualmente adotada pelos dirigentes em Pequim. Objetivam, na perspectiva chinesa estabelecer um fluxo de livre comércio e futura integração internacional de mercados. Com essa iniciativa, a China almeja novas oportunidades de comércio, estabelecendo network de integração e cooperação (conectividade, para empregar o termo preferido de seu governo atual) com vários países que se dispuserem a participar.
Assim se materializaria a iniciativa de “um cinturão e uma rota”, lançada por Pequim, em 2013, ambicionando a modernização da massa terrestre eurasiana, onde vive (incluindo chineses e indianos) cerca de sessenta por cento da população mundial. Ademais, tendo em vista a fragilidade do sistema de poder internacional vigente, o projeto de Belt and Road poderia indicar um novo ordenamento nas relações entre os países a serem incluídos. Tratar-se-ia de um “multilateralismo com características chinesas”, conforme se procurará descrever a seguir.
Uma Visão Sino cêntrica do Mundo
Cabe lembrar, neste ponto do exercício de reflexão, que os chineses desenvolveram, bem cedo em sua História, uma visão sino cêntrica do mundo. Este pensamento incluía dois componentes principais. O primeiro era a ideia de que o Imperador da China reinava sobre aquele país e áreas vizinhas, sem que, entre estas, fosse estabelecida qualquer distinção ou limites geográficos – eram consideradas simplesmente uma vasta mancha amorfa.
O segundo aspecto dizia respeito à percepção chinesa de que o planeta -dentro dos limites então alcançáveis – poderia ser governado de forma harmoniosa e pacífica, como uma sociedade ideal, sob o mando de um Imperador virtuoso. Unidade e harmonia eram, assim, os objetivos a serem atingidos, numa visão utópica de como deveriam estabelecer-se as relações internacionais, sempre ditadas a partir de um centro de decisões localizado dentro da China[2].
Cabe ressaltar que as relações da China com o Sudeste Asiático foram historicamente marcadas pela busca constante do equilíbrio regional. Os chineses, sem nunca renunciarem a sua visão sino cêntrica do mundo, demonstravam determinação no sentido de pacificarem os “bárbaros” situados ao sul de suas fronteiras, ao mesmo tempo em que procuravam transmitir-lhes suas normas de comportamento confucionista.
Nesta perspectiva, a influência criada pela China era expressa pela sua incontestável superioridade, no plano interno, em termos de organização política e social, incluindo a defesa de normas éticas de comportamento que os chineses procurariam divulgar nas relações com outras nações. Não se buscava o domínio econômico ou a conquista territorial dos Estados vizinhos, com o emprego da força. Como resultado, o Sudeste Asiático tinha a percepção constante da existência de uma potência regional a ser levada em conta, mas não permanentemente temida[3].
Verifica-se, nessa perspectiva, que, desde o início da política de modernização da China, na década de 1980, houve desdobramentos que facilitaram o atual avanço do processo de congruência entre a área de influência tradicional da cultura chinesa e uma nova fronteira econômica da RPC.
A crescente regionalização da produção evoluía, de forma que a interação de novas tendências, como a redução nos custos da mobilidade dos fatores de produção e as economias de escala exigidas por processos produtivos crescentemente sofisticados, proporcionavam o surgimento dos chamados “tigres” ou “novas economias industrializadas”. Os efeitos de tais reajustes seriam evidentes no aparecimento de formas de relacionamento inovadoras, que incluiriam diferentes tipos de parcerias entre o Japão, novas economias industrializadas no Sudeste Asiático e partes da China.
A emergência de certos países e agrupamentos regionais, sempre de acordo com esta linha de raciocínio, não se deveria a experiências isoladas, mas a fenômeno integrado, que projetaria sobre a área, como um todo, os benefícios da acumulação de capital e da experiência modernizadora resultante da aplicação prática de novos conhecimentos científicos e tecnológicos.
A estabilidade e o progresso na Ásia-Pacífico passaram a ser entendidos, por setores de opinião, como dependentes, cada vez mais, de processos de cooperação que garantissem a negociação entre suas diferentes culturas. Nesse contexto, despertava crescente interesse os vínculos históricos entre a China e o Sudeste Asiático.
Isto porque, a maioria dos países do Sudeste Asiático compartilha de passado que os inseriu, em maior ou menor escala, em esfera de influência de duas grandes civilizações: a chinesa e a indiana, que interagiram, através dos séculos, com culturas locais. O Budismo, o Islã, o Hinduísmo e o Confucionismo deixaram, assim, marcas profundas que continuam a diferenciar ou aproximar pessoas.
A este mosaico de heranças culturais seculares, somou-se, mais recentemente, o colonialismo europeu que impôs, pela força, novos valores e normas de organização e comportamento. A partir do término da Segunda Grande Guerra, os Estados recém-independentes da região foram divididos, pela rivalidade ideológica das superpotências, entre os que serviriam como a vitrine da economia de mercado e os que seguiriam o sistema de planejamento centralmente planificado.
Com a multipolaridade resultante do término da Guerra Fria, ocorreu o recuo das esferas de domínio de Washington e Moscou. Como consequência, no Sudeste Asiático, tornou-se possível o ressurgimento de influências político-culturais antigas, como a chinesa. Hoje, quando se discutem os efeitos da presença avassaladora da cultura de massa, resultante da globalização, os países da área buscam, em sua própria região, marcos de referência que permitam afirmar valores, ideias e crenças, consolidadas através de uma história compartilhada numa geografia determinada.
No Sudeste Asiático, nessa perspectiva, verificou-se a gestação de um novo conjunto de mudanças que afetaram não apenas a economia, através da reorganização frequente de suas vantagens competitivas, transformações técnico-industriais nas formas de produzir e alterações na organização da sociedade. Tudo isso ocorreu, no entanto, com a preservação de valores culturais que, passando de geração a geração, garantiram uma base de sustentação do modelo que se consolidava.
Na prática, este processo evoluiu com a busca da construção de sucessivos “building blocks”. Na primeira etapa dessa construção de blocos, logo após a morte de Mao Zedong, integrou-se o próprio sistema econômico chinês. Em seguida, foi permitida a abertura de cidades costeiras ao comércio internacional, com a criação das Áreas Econômicas Especiais, onde foram adotadas práticas de economia de mercado dentro de um sistema centralmente planificado mais amplo. Os blocos seguintes foram surgindo ao longo do rio Yangtze, até chegar a Xangai, onde se situaria a “cabeça do dragão”.
Gradativamente, houve a consolidação de Hong Kong e Macau no sistema produtivo da RPC. A crescente integração econômica – e futuramente política – com Taiwan será o passo seguinte. A expansão da fronteira econômica chinesa em direção ao Sudeste Asiático encontra-se em curso e está sendo facilitada pela existência, ao Sul da China, de uma rede de indivíduos com origem étnica comum, chamados “chineses de ultramar”, que têm como referência uma mesma identidade cultural.
Assim, gradativamente, chegar-se-ia a uma futura congruência entre a área de influência tradicional da cultura chinesa e uma nova fronteira econômica da RPC.
Este último desenvolvimento já está sendo implementado através de um fenômeno de “cross fertilization”, caracterizado por intercâmbio de referenciais de valores, entre aquela área considerada historicamente como situada na periferia do Império do Centro e a RPC.
O conjunto de transformações ocorreu de forma a sugerir, mesmo, a emergência de um novo paradigma regional. Isto porque, por um lado, a existência de uma base cultural chinesa servia de plataforma de sustentação para um processo de cooperação com o Sudeste Asiático.
Por outro, haveria os tipos de contribuições seguintes:
– os países bem-sucedidos como a “vitrine do Capitalismo no Sudeste Asiático” – a exemplo de Cingapura – indicariam os rumos para o aperfeiçoamento da “economia socialista de mercado”, com características chinesas, gradativamente buscada pelo programa de modernização da RPC; e
– a persistência do Vietnã em manter seu sistema central de planejamento, ao mesmo tempo em que adota “práticas de economia de mercado”, reforça a proposta chinesa de preservar a vertente “socialista” entre as medidas adotadas, no programa de modernização da República Popular da China.
O interesse quanto à reflexão sobre o tema deve-se à influência que a emergência de um bloco político de interesses recíprocos e de mega proporções – como o representado pela China e o Sudeste Asiático – exercerá no ritmo de integração e cooperação na Ásia-Pacífico, um dos laboratórios de modernidade do planeta.
Ademais, existe a possibilidade de que laços culturais possam vir a ser fator determinante na expansão de fronteira econômica na área em questão, em oposição ao exercício da força como garantia de esfera hegemônica.
De “Building Blocks”, no Sudeste Asiático, à Expansão por Círculos Concêntricos, na Ásia Central.
A montagem de esfera de influência da China, na Ásia Central, não parece seguir o mesmo processo de emergência pacífica de sucessivos blocos, no contexto de identidade cultural compartilhada – conforme o exercício de reflexão proposto acima para a reintegração do Sudeste Asiático à antiga esfera de influência do Império do Centro. Observadores centro-asiáticos, a propósito, temem que a expansão chinesa em curso naquela região siga o rumo de “círculos concêntricos”, com base em teoria de “fronteiras estratégicas”.
Na medida em que seria possível raciocinar, com respeito às relações da China com a Ásia Central, nos mesmos termos de sucessivos blocos – conforme a teoria defendida pela RPC para a reintegração do Sudeste Asiático na antiga área de influência do Império do Centro – caberia identificar, inicialmente, o caminho seguido por Pequim, no esforço de expansão ocidental de seu território.
Lembra-se, a propósito, que, com o colapso da União Soviética, em 1991, estados independentes, com forte influência do Islã, surgiram ao redor das fronteiras ocidentais da China. De repente, diante do efeito demonstrativo da emancipação da URSS de novas Repúblicas, como a do Tajiquistão, onde predomina a mesma religião, Pequim se viu forçada a confrontar desafios a sua autoridade na província limítrofe mais remota – a de Xinjiang que, apropriadamente, significa “nova fronteira”, no idioma chinês. A prioridade da RPC foi, desde o início da década de 1990, a manutenção do domínio e estabilidade sobre seu próprio território.
O conceito de fronteira empregado no que diz respeito à Xinjiang, no entanto, sempre teve, para Pequim, conotação bastante “móvel”. Isto é, dependendo da necessidade de explorar recursos e da capacidade de projetar poder para garantir tal apropriação, o traçado destas “fronteiras” poderia expandir-se ou retrair-se.
Em seu livro “The New Silk Road Diplomacy”, Hasan H. Karrar[4] explica que “the optimum level of expansion varied over time, a fact borne out by the cyclical expansion and withdrawal from Western Regions that corresponded with the center’s ability to project decisive power into the contested frontier zone”.
Com o crescimento econômico acelerado recente, no entanto, a RPC começou a identificar crescente competição internacional por recursos energéticos e influência na Ásia Central, agora livre do controle que Moscou exercia sobre a extinta URSS.
Nessa perspectiva, sempre de acordo com Hasan Karrar, imperativos de ordem econômica e de segurança determinam a estratégia expansionista chinesa, a partir da província de Xinjiang, no sentido ocidental, em direção à “Eurasia”. Registra, a propósito, que durante a Dinastia Qing, em 1884, aquele território foi incorporado pelos chineses e, em 1949, tornou-se uma “região autônoma” da recém fundada República Popular.
Sempre segundo este raciocínio, o conceito de uma nova Rota das Sedas, para os chineses, significa, inicialmente, a estabilização de Xinjiang, que, como se sabe, tem sofrido períodos de intensa turbulência. Em sua expansão ocidental, em direção à Eurásia, a China continuaria no esforço de desenvolver as regiões ocidentais mais remotas e garantir o fornecimento de recursos naturais.
Haveria, assim, uma visão chinesa de que a expansão de suas fronteiras no sentido ocidental seria dependente de uma política de sucessivos círculos concêntricos. Isto é, haveria um centro de poder em Pequim que, dependendo do poderio militar e força econômica do momento, teria capacidade de projetar ou retrair influência além de seu território, criando os tais círculos concêntricos. Este tipo evolução ou retração teria ocorrido, de forma cíclica, no decorrer da longa história da China.
Cabe registrar que a Ásia Central tem representado área propícia para sucessivos períodos de expansão de diferentes impérios – além do chinês – tendo em vista a fragilidade das diferentes formas de instituições políticas que lá se instalaram, bem como abundância de atores não estatais, que variaram de traficantes e bandos de saqueadores a pequenas aldeias. Essa complexidade é bem descrita no livro “The Great Game”, de Peter Hopkirk.
Enquanto isso, Pequim continua a evocar narrativas das viagens de Zheng He, que servem como conforto para os que se preocupam com sua expansão marítima. Para reforçar esta tese, Pequim tem procurado apresentar, sob versão benigna a viagem do Almirante Zheng He, ocorrida há 600 anos, ao Sudeste Asiático[5].
A projeção de seu poder terrestre, no entanto, não combina com a ideia de ascensão pacífica marítima chinesa, conforme mencionado acima. Reflete, sim, esforço de expansão de doutrina de fronteira estratégica.
Sabe-se, a propósito, que a China não adere ao conceito ocidental westfaliano sobre nações-estados, com fronteiras estabelecidas. Ademais, a preferência da RPC por “fronteiras estratégicas” leva observadores a acreditarem que a RPC é motivada por uma proposta de “Lebensraum”, ou “espaço vital” que foi, como se sabe, pedra fundamental da filosofia de Adolf Hitler, que acreditava merecer a Alemanha territórios adicionais, principalmente na região eslava oriental, para crescer.
O impulso atual da RPC, em direção aos territórios da Ásia Central lembra política japonesa da década de 1930, que levou à invasão do território chinês da Manchúria. Com base na ideologia chamada de “Manchukuo”, a agressão nipônica era dividida em três etapas: 1) amplo investimento na infraestrutura para a extração de recursos naturais; 2) intervenção militar para a proteção de interesses econômicos; e 3) absorção sociopolítica, com o estabelecimento de governo fantoche. Este foi o processo adotado pelos japoneses, na década de 1930, com a invasão da Manchúria e o posterior estabelecimento, no “governo” daquela província chinesa do “Imperador Puyi”, da já então extinta dinastia chinesa Qing.
No que diz respeito à “Rota das Sedas”, situa-se em região que separa a China da Ásia Central e Europa e é uma das mais inóspitas do mundo. A maior parte é coberta pelo deserto de Taklamakan, e sofre pela ausência de chuva e por frequentes tempestades de areia. Apesar de poucas estradas, em péssimas condições, caravanas fizeram seu percurso, durante séculos.
Ao invés de comercializar sedas, porcelanas, tapetes, pérolas e especiarias, os chineses hoje vendem eletrônicos, automóveis, aparelhos de telecomunicações, enquanto investem em portos, ferrovias, estradas, projetos de exploração de gás e petróleo e minas.
Em seu artigo “China’s New Silk Road to the Mediterranean: The Eurasian Land Bridge and Return of Admiral Zheng He”, Cristina Lin menciona que, em setembro de 2011, a RPC promoveu a exposição “China Eurasia”, na cidade de Urumqi, província de Xinjiang. Segundo divulgado pelo “China Daily”, em 6 de setembro de 2011 a referida feira de negócios pretendia “colocar a capital da província mais distante de Pequim, em patamar de plataforma de comércio no coração da Eurásia e promover a cooperação econômica através da fronteira, em região vulnerável à instabilidade e violência”.
No momento, a China aparenta estar expandindo seus interesses por acesso a recursos naturais e a novos mercados, ao Pacífico Ocidental, ao redor da periferia dos países do Sudeste Asiático, e ao Sul da Ásia, bem como em direção à Ásia Central e crescentemente sobre o continente eurasiano.
Com respeito ao relacionamento da RPC com o Sudeste Asiático, Pequim formula discurso com o realce de laços históricos – mencionados no decorrer deste texto – que têm sido capazes de garantir a inserção internacional chinesa atual em universo de influência cultural do antigo “Império do Centro”. Procura, então, dar versão benigna às viagens do Almirante Zheng He, ocorridas há 600 anos, aos mares austrais do continente asiático.
Quanto à Ásia Central e Eurásia, registram-se formulações quanto ao ressurgimento de uma Nova Rota das Sedas. Esta, no entanto, parece basear-se na consolidação de corredores através do Continente Eurasiano, com presença militar chinesa.
Nessa perspectiva, a China está empenhada na frenética construção de ferrovias, estradas e dutos para a importação de recursos energéticos, através da Eurasia. Tais vias de transporte substituirão as caravanas de camelos da antiga Rota das Sedas. Da mesma forma, a moderna Marinha da RPC substitui a frota de Zheng He, nas costas da África e do Mediterrâneo.
Há, contudo – sempre a título de reflexão – o surgimento de análises com base em formulações tradicionais naquele país.
Assim, por exemplo, segundo o “I Ching” (livro de “previsões chinesas”) existem cinco elementos na natureza: terra, água, madeira, fogo e metal. Em torno destes, são feitos diagnósticos médicos, arrumadas divisões e móveis em escritórios e apartamentos e preparadas receitas culinárias, entre outras utilidades. Existem, também, raciocínios de inserção internacional da China que seriam condicionados por tais variáveis[6].
Assim, a terra seria o elemento do Império do Centro, que por definição, se situa no centro do mundo. A terra absorve a água, que representaria os países ao norte. Daí, os chineses nunca terem temido, por exemplo, a extinta União Soviética, pois acreditavam que seu exército popular, com milhões de indivíduos, absorveria eventuais forças invasoras da URSS, mesmo diante da superioridade de equipamento militar do vizinho. A madeira, contudo, fere a terra e situa-se a leste, onde se encontra o Japão, inimigo histórico, capaz, sim, de ferir a China – conforme já o demonstrou.
Ao sul do país que se considera central, aparece o Sudeste Asiático representado pelo fogo – que também pode ser apagado pela terra. Daí, talvez, os dirigentes atuais da RPC, inspirados pelo I Ching, sintam-se pressionados a elaborar discurso de ascensão pacífica marítima sua, enquanto buscam estreitar as relações com aquela parte do mundo, precavendo-se contra labaredas de desconfianças históricas.
Ao ocidente, em direção à Ásia Central e Eurásia o elemento é o metal – que deriva da terra. Na perspectiva deste tipo de formulação simplista – mas ilustrativa – da inserção internacional da RPC, parece que o país que se considera no centro do mundo, entenderia ser direito seu expandir-se sobre terras ocidentais, em processo cíclico, sempre que haja recursos estratégicos que o justifiquem e poder que lhe permita assim proceder.
Para que interpretações como estas não sejam levadas a sério, tampouco prevaleça a teoria dos “círculos concêntricos” citada acima, a proposta de “multipolaridade com características chinesas” deve ser entendida de acordo com a orientação oficialmente anunciada pelo Partido Comunista Chinês.
Segundo esta, conforme já citado acima, a perspectiva chinesa é a de estabelecer um fluxo de livre comércio e futura integração internacional de mercados. Com essa iniciativa, a China almeja novas oportunidades de comércio, estabelecendo network de integração e cooperação (conectividade, para empregar o termo preferido de seu governo atual) com vários países que se dispuserem a participar.
Assim se materializaria a iniciativa de “um cinturão e uma rota”, lançada por Pequim, em 2013, ambicionando a modernização da massa terrestre eurasiana, onde vive (incluindo chineses e indianos) cerca de sessenta por cento da população mundial. Ademais, tendo em vista a fragilidade do sistema de poder internacional vigente, o projeto de Belt and Road